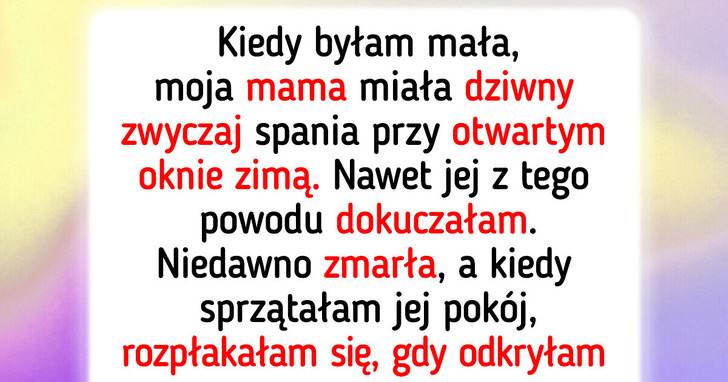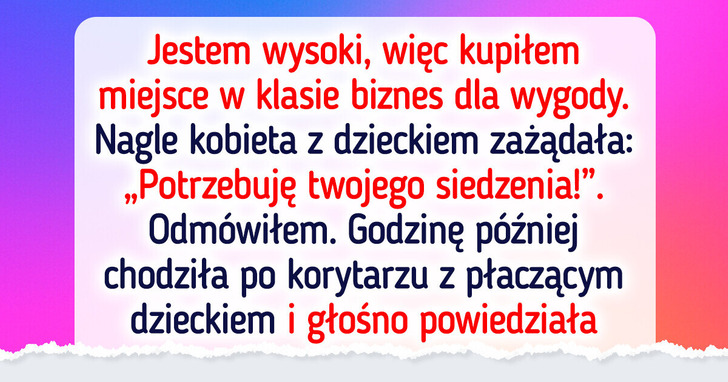Meu filho construiu uma família onde não tenho lugar
Chamo-me Eduardo. Tenho 72 anos. Vivo sozinho numa casa antiga nos arredores de uma pequena vila, onde outrora tudo pulsava de vida. Aqui, neste quintal, o meu filho corria descalço pela relva, chamava-me para construir cabanas com velhos lençóis, juntos assávamos batatas nas brasas e sonhávamos com o futuro. Naquela época, acreditava que esta felicidade duraria para sempre. Que eu era necessário, importante. Mas a vida segue o seu curso, e agora, a casa está em silęncio. Pó sobre o bule, um arranhar num canto, e os ladridos esporádicos do cão do vizinho atrás da janela.
O meu filho chama-se Guilherme. A mãe dele, a minha falecida esposa Beatriz, partiu há quase dez anos. Depois disso, ele tornou-se a única pessoa que me resta próxima. O último elo com um passado onde ainda havia calor e significado.
Criámo-lo com amor e atenção, mas também com firmeza. Trabalhei muito, as minhas mãos nunca conheceram descanso. Beatriz era o coração da nossa casa, e eu, as suas mãos. Nem sempre estava presente, mas quando era preciso, lá estava. Subordinado ao trabalho, mas pai em casa. Ensinei-o a andar de bicicleta, arranjei-lhe o primeiro Fiat 500, com o qual partiu para estudar no Porto. Orgulhava-me dele. Sempre.
Quando o Guilherme casou, a minha alegria foi imensa. A noiva, Leonor, pareceu-me reservada, discreta. Mudaram-se para o outro lado da cidade. Pensei: tudo bem, que vivam a sua vida, que construam algo. E eu estarei aqui para ajudar, para apoiar. Acreditava que me visitariam, que poderia cuidar dos meus netos, ler-lhes histórias ao serão. Mas nada aconteceu como esperava.
Primeiro, foram chamadas breves. Depois apenas mensagens nos feriados. Apareci lá algumas vezes com uma tarte, rebuçados. Uma vez, abriram-me a porta, mas disseram que a Leonor tinha enxaqueca. Outra, a criança estava a dormir. E na terceira, nem sequer abriram. Depois disso, deixei de ir.
Não fiz cenas. Não me queixei. Sentei-me e esperei. Dizia a mim mesmo: tęm os seus problemas, o trabalho, os filhos tudo vai acabar por resolver-se. Mas o tempo passou, e percebi: não há lugar para mim na vida deles. Nem sequer no aniversário da morte da Beatriz apareceram. Apenas uma chamada e nada mais.
Há pouco tempo, cruzei-me com o Guilherme por acaso na rua. Segurava o filho pela mão, carregava sacos. Chamei-o o coração apertou-se de alegria. Ele virou-se, olhou para mim como se eu fosse um estranho. «Pai, está tudo bem?», perguntou. Acenei com a cabeça. Ele fez o mesmo. Disse que estava com pressa. E foi-se embora. Assim foi o nosso encontro.
Caminhei muito até chegar a casa. A caminho, perguntei-me: onde falhei? Porque é que o meu próprio filho se tornou um estranho? Talvez tenha sido demasiado severo? Ou, pelo contrário, demasiado brando? Ou talvez me tenha tornado apenas um incómodo com as minhas memórias, a minha velhice, o meu silęncio
Agora, sou a minha própria família, o meu próprio apoio. Faço chá, releio as cartas da Beatriz, às vezes sento-me no banco e observo as outras crianças a brincar. A vizinha, Catarina, por vezes acena-me. Respondo com um aceno de cabeça. É assim que vivo.
Amo ainda o meu filho. Mais do que tudo. Mas já não espero nada. Talvez seja este o destino dos pais deixar ir. Mas ninguém nos prepara para o dia em que nos tornamos supérfluos na vida daqueles por quem vivemos.
E talvez seja isto, a verdadeira maturidade. Só que já não é a do filho. É a do pai.